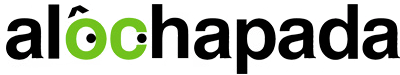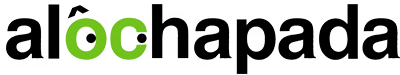A mente atormentada pelas dores e horrores decorrentes da materialidade da vida cotidiana foi quem criou o sonho – esse átimo de tempo, trisco etéreo de espaço, mescla de desvario e esperança – onde dá-se à folga de nada sentir, aliviando o corpo no sossego do porvir imaginado. Em face da dor sentida, o sonho partureja a fé: refúgio gozoso, que dá gosto sentir: faz chorar, faz sorrir! A fé faz levitar, faz coxos caminharem, santifica a virgem e salva a prostituta por caminhos diversos da mesma carnalidade, faz mudos cantarem louvores à fé; a fé se alimenta de si mesma e, assim, faz-se materialidade pelo que as mãos corporificam, transformando o real da vida – reparado bem, é espiritualidade rebaixada ao inferno das nossas necessidades, donde pode elevar corpo e espírito à liberdade...
O mundo é difícil de ser entendido, porque exige, na mesma indagação fundamental, sabermos de nós, nele. Fácil fosse, nem de Escola precisaríamos!
Mamede Gaiêro, dizia-se, tinha o corpo fechado: sabia orações, rezas antigas, muito fortes, que ninguém nunca conseguiu quebrar; era temido por essas proteções do além, mas, também, pela fama de valente e bom de tiro. À boca-pequena, tinha-se que chegara ali corrido da justiça, quando ainda era moço novo; mas, certeza mesmo, não havia, nem precisava. O apelido, que sugeria exalar o cheiro do Veado Galheiro, e não por seus chifres, deu-se num dia de trabalho na olaria do Tonico Goiano: com o sol escaldante, o moleque Josué foi beber água no mesmo momento que Mamede, aí, ao sentir a inhaca dele, disse-gritado para os demais: “–Rapais, o Mamede tá fedeno mais que Gaiêro véio!”. Mamede rangendo os dentes ao pai do moleque: “– Óia seo Tunico, com todo a consideração, o sinhô ensine esse muleque a respeitar homi!”; murcharam-se os risos, o causo se espalhou, mas o apelido ficou sem serventia: ninguém nunca se atreveu chamar Mamede assim...
Mamede bebia; mas, somente cachaça curtida com alguma erva: amargoso, semente de sicupira, raiz de fedegoso, arnica e, às vezes com limão, que espremia na hora: tudo, “prá mode o álcool num fazê mal”, dizia. Vivia num pequeno sítio, sobejos das áreas maiores e melhor localizadas, que nada lhe custou; cercou a parte que faltava e fez, ele mesmo, uma casinha de taipa, coberta com palha de piaçava – ali morava. Cuidava com muito gosto da sua criação: galinhas, porco piau, patos – boi, não: porque isso era coisa de fazendeiro, gente rica. Dali saía para entregar alguma criação que alguém comprara: um frango, um pato, ovos; ou então, para algum serviço eventual, coisa de se fazer em um ou dois dias: fazia o serviço, recebia o pagamento e voltava para a sua vida. Era feliz assim, de si mesmo...
Numa boca-da-noite de sábado houve um entrevero feio, por causa de cachaça, entre Mamede e Rufino da Puba, no cabaré da Joana Taboca. O dois foram às vias-de-fato, com Mamede dando um tapa no Rufino, que o fez cambalear zonzo até à porta do cabaré, dali, tirando um revólver 32 da cintura, apontou pro peito do Mamede e apertou o gatilho 6 vezes; aí deu-se o que virou falatório sem fim: nenhuma das balas explodiu e, num safanão, Mamede lhe tomou a arma e, como se mangasse do seu pavor, virou o revólver pro teto do cabaré e disparou os seis projéteis. Mamede olhou-o friamente e aos demais, depois jogou a arma descarregada no chão, junto a seus pés de um Rufino apavorado, virou-lhes as costas e foi embora sem dizer uma palavra. Até quem não cria, passou a acreditar nas proteções estranhas do Mamede.
Passado o tempo, quando lhe perguntavam sobre o acontecido, respondia abstruso: “–Num foi nada. Mas, o certo é que tu pode matar déis, pra salvar sua vida, que é só uma; mas num deve nunca fazer maldade com um mais fraco...”
Depois daquela briga, Mamede ficou tempo “alongado” no seu lugar, sem ir na cidade; aí, nos primeiros dias de dezembro, Dia de Santa Luzia, as pessoas ficaram entre assustadas e curiosas com Mamede, à noitinha, na beira do rio acendendo velas. Num silêncio dele e do rio, acendia uma vela, esquentava a sua base para fazê-la ficar grudada numa arrumação de dois pedaços de talo de buritizeiro, encangados como uma pequena embarcação; depois de ajeitar assim todo o maço de velas, em seis “embarcaçõezinhas”, começou a despedi-las, uma a uma, com muito jeito: colocava-as bem devagar sobre as águas, dava um pequeno empurrão, e aquela lamparina seguia para o sem-fim das imensidões de sua fé, alumiando sua alma e o mundo. Despediu a última e olhou satisfeito aquela procissão de luzes descendo o rio, num belíssimo espetáculo; quando viu atrás de si, algumas pessoas a olhá-lo silentes, e cheias de indagação: “–É promessa, Mamede?” Olhou-as com alegria: “–Num dexa de ser; mas, é que é Dia de Santa Luzia, né?!” No ano seguinte, mais gente quis ir com Mamede para aquele ritual bonito; viu-se até o padre e o diácono à beira do rio, e se fez um espetáculo muito bonito...
Houve o caso do Vilário, filho do comerciante João Macedo e dona Marcela, que foi morto de tiro por um peão-do-trecho conhecido por Gajoba. Os dois discutiram por besteira, em conversa de botequim; o peão, depois de levar um tapa na cara, atirou no peito de Vilário – que caiu “em cima” dos pés: morto. Gajoba “abriu-unha”, fugiu, sem ninguém achar o rumo. Velório de muita gente, choro sentido da mãe, e o pai cheio de desejos de vingança em silêncio sem choro; aí Mamede sentou-se do lado de João Macedo e lhe disse em baixa voz: “–Se botar uma moeda dibaxo da língua do Vilário, o Gajoba num vai longe, e é capaz inté, de voltar no lugar que ele matô o minino”; disse isso e tirou do bolso uma moeda velha, entregando-a ao pai rancoroso – e se foi. João Macedo ficou pensativo, depois se levantou, aproximou-se do caixão no meio da sala e sem levantar a cabeça disse a todos com voz pausada e triste: “– Vocês me deem licença, mas eu preciso ficar um pouco com meu filho aqui, sozinho!” As pessoas se entreolharam, a sua esposa ficou sem entender, mas também se retirou para fora da sala. Então, ele acariciou a face do filho morto, abriu-lhe a boca e colocou a moeda sob a sua língua; sentou-se novamente, dizendo às pessoas que podiam voltar ao velório...
Passava um pouco do meio-dia, quando Honório chegou apressado no velório, olhou da entrada João Macedo e lhe fez sinal para sair: “Seu João, fui pear os cavalos e quando estava voltando vi o Gajoba naquele terreno ali, atrás do cabaré da Joana Taboca...” Dias depois, o corpo do Gajoba apareceu boiando, enganchado numa muita de sarã, perto da praia da gaivota. “...às veis, é só o acaso de uma coisa dá certo, que vira fé; aí a gente acredita feliz...”
Quando já vivia a velhice adiantada, Mamede pegou a dizer, quando lhe perguntava sobre o viver: “–Rapais, o diacho da vida é que no correr dos anos a gente vai perdeno as força, o corpo vai se esfraqueceno, e num arrespeita mais as vontade; mas, tá bom...”. Então, caiu doente, doença de gente velha: quando tudo dói e desconforta o dia e a noite. No início, ainda tinha força para ir até a farmácia do Seo Irineu, farmacêutico prático, mas muito cuidadoso com quem lhe procurava: vendia fiado, anotando tudo num caderno de “a receber”; mas, havia os que abusavam da sua bondade: uns, demorando a saldar a dívida, e outros que não pagavam mesmo, até ter nova precisão, aí apareciam com a cara cheia de desculpas, pagavam a dívida antiga e fazia uma nova – e ele atendia. Depois, Mamede não pode mais caminhar até a cidade, e ficou ali no sítio, onde, vez em quando, recebia a visita do velho farmacêutico com remédios e recomendações.
Quando entrou no “morre-não-morre”, dona Firmina levou Mamede pra sua casa, para que não morresse sozinho, à míngua; foi ali, sob os cuidados dela, que perdeu a vitalidade de vez: não falava, gemia gemido baixinho, mas não morria. “Mamede tá morto-vivo, porque só vai morrer mesmo, se tiver alguém pra quebrar as orações dele!”, “Mamede tem oração muito forte!”, “Esse só morre, se quebrarem as orações dele” - era o que se ouvia das pessoas que foram vê-lo no leito de morte. Então, dona Firmina procurou dona Pedra – mulher soturna, que pouco falava, mas de nunca faltar a uma Missa, dizia-se que sabia feitiço. Foi pedir-lhe que, se pudesse, tirasse Mamede daquele sofrimento, quebrando-lhe as orações, como o povo dizia. A velha ouviu e foi: acendeu vela na cabeceira da cama onde estava o doente e lhe aspergiu água com ramo de arruda que foi ficando murcho, murcho, à vista-beata de dona Firmina, que se benzia...
Então, ao fim da reza, Mamede suspirou profundamente, e descansou.
*Prof. Dr. Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real