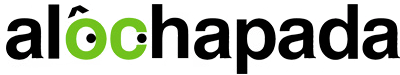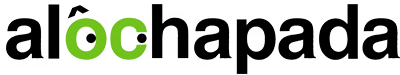A dor torna o olhar do doente ternurento, e nos seus gestos lânguidos e silentes sente-se súplicas de amparo. Olha tudo devagar, como se a pedir compreensão sobre o que fora, e a fazer promessa de ser bom e correto, se não terminar ali. A arrogância, não: é, per si, a negação do outro; nasce no conforto da saúde, da riqueza que se afigura desnecessitada do outro – é o modo de ser do arrivista que, de sobre uma montanha de bens, olha subalternizando tudo, ensimesmado, esquecido ou ignorando que a dimensão de si, tem as medidas do que a humanidade é. A doença desensoberbece, fragiliza: dá mais autoridade ao médico, que ao juiz e à polícia...
Por muito saberem, os pais de outrora sentiam a necessidade de os seus filhos irem à Escola para aprenderem o que não lhes podiam ensinar; pois, como diz o poeta baiano, esse genial Gilberto: “...o povo sabe o que quer, mas, o povo também quer o que não sabe”. Se na escola, ensina-se o que foi convencionado como importante para a sociedade saber, notadamente os Trabalhadores e seus filhos e filhas, à vista da necessidade e do interesse da classe proprietária seguir sendo o que é – é de se lembrar que há outros saberes, inclusive resquícios de um outro saber, que vige diminuído nos arrabaldes do mundo erudito, expressando-se por rezas, benzimentos e crenças sem igreja...
Sim, nas vilinhas restantes, protegidas por suas distâncias, que se fizeram comunidades para o amparo do próprio ser, ali, nos seus ambientes sem rebuços, ainda se urde sujeitos que sabem o que os livros da normalidade não gostam de contar. São lavrados pela rusticidade terna de suas precisões, para saber de cor, que é saber de coração, quando se acreditava que no Coração é que estava o pensamento e a inteligência. A Ciência, depois, acabou com essa poesia, ao dissecar os órgãos todos, transferindo do Coração para o Cérebro, o pensamento e a inteligência; em seguida, seus tratados foram apropriados pelos homens e mulheres de negócios, quando ganharam mais celeridade e volume, para os fazerem mais rendosos. Mas, as gentes dessas vilinhas, sem necessidades de um ajuntar mais riqueza e ter poder que os demais, preservaram na memória do Coração aquelas sabedorias...
Para que certas coisas deem certo, é necessário ter fé; mas, às vezes, é o que dá certo, que faz o sujeito ter fé. Irmão meu, que já fora “crente” (até descobrir que tem mais safadeza, que religião nos desesperos de pastor por dízimo), engasgou com espinha de peixe. Foi no posto médico, o médico examinou bem, auscultou, fez pergunta e, por fim, orientou-o a buscar cura em outro lugar, com mais recursos para uma cirurgia; saiu do posto aflito, sob o peso daquele diagnóstico e da orientação. Sabendo da situação, um conhecido, sem dar crédito à orientação médica, disse-lhe: “Rhun, minino isso é besteira: vai lá no véi Lioneli, que ele reza e isso sai na hora!”. Foi, porque doente não escolhe tratamento.
Todos o conheciam por Lioneli. Era um sertanejo baixinho, negro, fala mansa e agradável; de pés acostumados nos caminhos de chão, conhecedor dos segredos do Sertão – não me lembro dele com esposa e filhos: acho que não os teve. Meu irmão foi à casa dele desacorçoado; sentindo o peso do diagnóstico médico, disse-lhe o que havia acontecido. O velho o olhou como se com algum enfado, dizendo resoluto: “Hum, num há de ser nada...”; em seguida rezou com palavras incompreensíveis, de tão baixinho que rezava. Meu irmão conta que após o benzimento, dispensado pelo velho, agradeceu e, saindo pela porta da frente, ao chegar no terreiro não sentiu a espinha na garganta; diz que engoliu em seco duas, três vezes, tentando sentir a espinha, pressionou com o dedo, e não sentiu mais nenhuma dor ou incômodo: a espinha havia desaparecido da sua garganta. Seu Lioneli morreu pouco tempo atrás, com uns 100 anos de idade: deve estar em Paz...
Dona Aurenice foi uma das primeiras pessoas a chegar no Mato Verde, na primeira metade do Século passado; veio com as primeiras famílias lideradas pelo Coronel Lúcio. Era uma dessas pessoas que criança acha que sempre existiram; não apenas pela idade avançada, mas, especialmente pelo modo de ser. Falava mansamente, como se dominasse o tempo, sem nunca querer demonstrar que sabia alguma coisa: não precisava disso. Conversava mais perguntando, que afirmando alguma certeza; assim, confirmava o que o outro dizia com uma nova pergunta: “É mesmo, né?”. Cuidou do Seo Rosa até que ele se despediu, de velhice. Numa noitinha, lembro, ela servindo-lhe a janta: uma costela bovina gorda, cozida com mandioca, num prato com arroz e farinha de puba. Ele comia com gosto, suando...
Vizinha nossa, Dona Aurenice era viúva, mãe do Tatu e do Leleca. Benzia as pessoas contra “Arca Caída”, ou espinhela caída, ou, ainda, peito aberto, como a doença é conhecida em outras regiões do Brasil. Seu benzimento era precedido pela medição da Arca da pessoa, isto é, da região toráxica, com um tecido torcido em forma de corda: ela tomava e levantava a mão do paciente à altura do rosto e, na ponta do dedo mindinho colocava uma extremidade do tecido, depois deslizava a outra parte até o cotovelo, marcando esse comprimento; em seguida, dispunha o tecido com a marcação nas costas da pessoa, de um ombro ao outro, verificando se coincidiam as medidas – havendo diferença, estava com Arca Caída, benzia...
O benzimento com palavras ligeiras, em sussurros, era seguido por gestos regulares das mãos: com uma, fazia seguidamente o Sinal da Cruz no rosto do paciente e, com a outra, aspergia no rosto e no peito com um ramo de arruda, a água de uma bacia esmaltada; depois, cingia o paciente com o tecido na altura do peito, apertava-o e, juntando as duas pontas nas costas, encostava as suas às costas da pessoa forçando-a, como se fosse levantá-la assim. A pessoa saía dali aliviada, sabendo que estava curada, sem precisar voltar no dia seguinte, nem procurar farmácia – porque sabia ser desnecessário tomar remédio de farmácia. Dona Aurenice morreu com mais de 80 anos; com ela, muito de uma sabedoria e modo de ser e viver, que nos fazia muito mais gente.
Certa vez meus pais plantaram uma rocinha de arroz, que vi, muito bonita. Mas, bateu a praga da cigarrinha, devorando tudo; jogou-se veneno, diminuiu, mas não resolveu. Foi quando alguém lembrou: “Olha, isso aí, só com reza...” Foram atrás de um rezador, muito reconhecido nesse ofício: o homem veio, entrou na roça, fez as orações quase em silêncio. Sentou, tomou café com bolo, conversou e foi embora. No dia seguinte, via-se os insetos se debatendo na água do lago em frente; na roça não ficou uma!
Passaram-se os anos, as décadas. A urbanização e seus interesses comerciais, as necessidades da indústria de vender suas mercadorias, inclusive os remédios, impuseram-nos a cultura do desprestígio ao que não valoriza o capital; de modo a desqualificar e fustigar tudo o que toma o corpo como uma totalidade, cuja materialidade tem na essência uma espiritualidade urdida por benquerenças e solidariedade. Assim, em nossos dias, se alguém sentir dor no corpo, nas pernas, nas costas, na boca do estômago, sentir cansaço, e relatar esses sintomas numa farmácia ou UPA, é imediatamente medicado com dois ou mais comprimidos, uma injeção e a determinação pra voltar no dia seguinte: para verificar a necessidade de mais remédio; porque a indústria farmacêutica existe pra vender remédio, não para curar. Parece ter sido esse interesse, que fez desprestigiar as benzedeiras, proibi-las, relega-las ao mundo das desnecessidades capitalistas...
Mas, porque a Vida se faz maior que a necessidade, o interesse arrivista não totaliza definitivamente o viver; assim, vê-se agora, crescerem movimentos para resgatar Benzedeiras e Benzedeiros – porque, como disse um destes, do alto dos seus 81 anos: “Tem coisas, minha filha, que não são para os médicos. Só a fé pode curar.”
*Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real