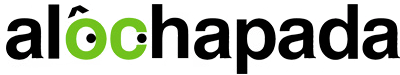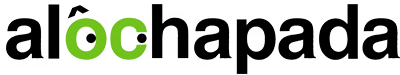A gente é, e não é: estamos sendo! O está sendo é o que se afigura no espelho – mas, é tão fugaz, que, em face do visto, não se pode dizer definitivamente: sou isto. Então, o que o espelho mostra é meio fantasmagórico, fantasia e repulsa, quimera – porque totaliza o olhar, de modo a não deixar frestas por onde o que foi, o passado, pudesse se mostrar. O espelho é a síntese do nada, não guarda nenhuma lembrança para que se possa ver dali a pouco: é o em si mesmo e, assim, materializa a fragilidade de não ser nada além do instante; mas, mesmo essa efemeridade, a feiura não suporta, de maneira que num gesto de desespero o destrói, pondo fim ao seu desgosto. Também, os ditadores e os que vivem de sugar a essência do outro, os que cuja vida viceja sobre o corpo mortificado do outro – esses, diz-se alhures, que não se olham nunca no espelho: têm pavor...
O espelho não tem história, tem-na a moldura, talvez o vidro, o cristal, a prata, o feitio imaginado e materializado pelo artesão esmerado que o fez; mas, o espelho, não, nenhuma história guarda: nem a da mais bela, nem a do mais feio, que um dia o defrontaram. Ali nada permaneceu. Daí que a Sinhazinha, com olhar de falsa tristeza, olha-o outra vez, en passant, antes de ir ao baile: não para confirmar a beleza, mas, para plenificar o corpo com a mentira que o olhar, num átimo, envia ao cérebro com última verdade – é o que lhe basta para ser a aparência que imagina fazer todos os olhares famintos de si...
A memória subtraída fragiliza o ser, que subsome no poder do vencedor, mas, avivada, afirma um querer próprio, desassossega; daí o status quo tomá-la como problema e não se cansar de querê-la excluída dos livros e cadernos das crianças, e condenar a fala do professor que a articula ao está sendo, às coisas que mãos e mentes estão a urdir. Porque, assim, emerge como o real em que o Ser se amalgamou, fazendo-o se ver nas dores e delícias dos seus que se foram; então, se aclaram os elementos que o fazem aprender à diferençar e acalentar a esperança que movimenta, da outra que faz o olhar se prostar num horizonte cada vez mais distante à esperar fenecendo.
Mas, veja: houve o caso de Severiano Pedra que, num tempo turvo – quando a cultura patriarcal, vigia sem peias – tinha por certo e necessário que a suposta honra masculina fosse lavada com o sangue da mulher que a traísse; naquele então, ele matou a esposa e seu amante. Depois, diz–se, fechou-se em si, cheio de remorsos e tristezas que nunca mais tiveram fim; e, assim, sem alegria, casou-se novamente e teve filhos e foi marido bom e pai exemplar. Mas, a memória da sua covardia o fez morto-vivo por toda a vida; andava soturno, em bons-dias frouxos, como se cansado de carregar peso imenso a lhe comprimir para o chão. Horizontalizadas naquele modo patriarcal de viver, vindo de antanho e revestido por interpretações enviesadas das Escrituras, as gentes dali nunca o condenaram, nem lhe viraram o rosto: a errada ficou sendo a mulher, que, cansada de se dar a um cotidiano desamoroso com ele, deu-se inteira ao que a fez levitar desde a carnalidade em fogo...
Antônio do Véio Pedro Serra vivia sua juventude, transbordando energias e a disposição próprias dos moços do sertão do seu tempo; era bem feito de corpo, ágil nos seus modos de ser e se vestia com a elegância possível naqueles ermos, de modo que encantava as moças e, até mulheres comprometidas, casadas. Ali, casamento, mais que a celebração do amor verdadeiro dos dois, consumava-se como o apossamento público e notório do feminino pelo homem; eventualmente, via-se no viver dos dois, benquerença, um gostar de ter a companhia do outro pelo costume de dormir e acordar na mesma cama, pela unidade que o nascer dos filhos estabelecia. Mas, amor mesmo, ouvia-se: era coisa de romance; porque, o que a vida exigia diuturnamente, sob os desesperos todos das precisões, das carências, desde o comer ao vestir, era a confiança de um apoio confirmado na Igreja, para ter e “criar os filhos”, muito necessários para o trabalho na roça...
Era um tempo em que não se casar, desprestigiava homens e mulheres, fazia desconfiar do o caráter, de modo a não ser convidado para um batizado, ou alguma festa realizada por um casal nas intimidades da sua casa ou sítio. Antônio se sabia desejado. Trabalhava trabalho duro, trabalhava com o pai, o velho Pedro Serra, no ofício de serrar madeira para as mais diferentes serventias: caibros, tábuas, pranchões, ripas e o mais que fosse encomendado; ganhava o necessário para a exibição de parecer não ser pobre demais, pelas roupas, pela bebida. Serrar madeira naquele tempo, era trabalho que exigia força e “jeito”, porque não havia nenhuma máquina para aliviar o peso de toneladas, nem para reduzir o esforço necessário; exigia ter habilidades e capacidade para saber a árvore certa, que não estivesse ocada por cupins, para saber derrubá-la à machadadas, atá-la nas cangas das juntas de bois e arrastá-la até o lugar apropriado para serrar...
Vista uma tora de louro, canjirana ou angelim, pesando mais de uma tonelada, disposta num jirau a dois metros de altura, imaginava-se admirado como se conseguira elevá-la àquela altura, apenas com as forças do corpo e a sabedoria para o uso das mãos e cordas, pedaços de madeira e outras rusticidades. No jirau com a tora bem ajustada, o velho Pedro embaixo, porque tinha menos força, e Antônio ficava em cima, sobre a tora – assim, empreendiam coordenadamente os movimentos de subida e decida da serra sobre a madeira, cortando-a pacientemente em pranchões ou tábuas, fazendo a serragem cair em tufos e ser levada, o pó mais fino, pelo vento, espraiando o cheiro bom da madeira. De todas, o louro, a mama-cachorra e o landi eram os mais cheirosos...
Das tantas moças solteiras dali, Antônio podia esposar quem lhe agradasse, construir família, manter o nome e a história de trabalho do pai; mas, a vida não se deixa tecer por um único fio e cor, exige sempre a beleza das diversidades que se dispõem no real do viver, onde sempre se corre o risco de cair nos seus muitos desvãos. Então, tudo desandou quando se percebeu subsumido no olhar desassombrado de Mariana: mulher recém-casada com o policial Romão. Antônio se desenredou em desvario de desejos. O velho Pedro desconfiou e lhe asseverou conselhos de preocupação; nada adiantou: amasiaram-se às escondidas, até tudo ser descoberto pelo marido policial. Deu briga, tiro, e Antônio saiu baleado numa perna: nada de grave; mas, dali se mudou às carreiras, para sempre, nunca mais voltou, nem viu o pai. Depois que o fogo dos desejos se amainou nela e nele, separaram-se: Mariana ficou no meio do caminho e ele se alongou pra mais longe, nunca mais se viram...
Quando havia Sertão, a informação custava a romper seus ermos para chegar nos lugares; às vezes, nunca chagava, e o que era dum jeito, mudava para outro, sem que ninguém soubesse do outrora. Quando Antônio aportou no Mato Verde, tudo ali era começo: duas ruazinhas cheias de distâncias entre uma casa e outra. Deu-se pelo mesmo nome, mas com sobrenome diferente do que herdara do pai: tomou pra si o sobrenome do irmão, que era filho de outra mãe; assim, ficou sendo um que era e não era. Então, logo se bem-quisto, visto pelo trabalho e comportamento de moço respeitoso; encantou-se com Mercedes e se casaram sem muita demora. Casamento no civil, no cartório, conforme mandava a lei e, especialmente, os costumes e a moralidade do lugar, afirmados e exigidos pela zelosa mãe de Mercedes; daí terem que viajar léguas para a sede da Comarca onde tudo se legalizou com nomes e sobrenomes dados pelos nubentes. Correram os anos, décadas: nasceram filhos e netos e bisnetos – a vida se remoçando com nascimentos e mortes...
Em vista um Jatobá erado, a vida humana é muito curta: a inteligência que ajunta e espalha coisas, aprendendo e esquecendo, lustrando e deslustrando os dias – é que nos fazem parecer mais vividos do que, de fato, vivemos. Antônio viva seus oitenta e poucos anos quando caiu doente, prostado, sem esperança em si mesmo, de que se levantasse curado: gemeu dias, semanas, meses – dum jeito que, ao fim de quase dois anos daquele sofrimento, despediu-se assim, tristemente, dos seus. Viu-se os cabelos de Mercedes se embranquecerem mais, os olhos se entristeceram sem cura, verteu lágrimas que nem se sabia haver tanta, o corpo quedou-se entregue às doenças da velhice; ainda assim, correu atrás das exigências legais de quem enviuvou: documentos probatórios da morte e da união – foi quando se viu que Antônio, por aquele sobrenome, nunca existira. Que importava aos seus, aquela constatação, em face do que lhes fora e vivera? Então, nada se disse a ninguém...
Homem bom, que o tempo o fizera melhor, na criação dos filhos e netos, na dedicação quase religiosa ao trabalho que lhe roubara todas as forças, aguçara a inteligência, mas garantiu-lhe a mantença suficiente, celebrada, dos seus em condições de orgulho; assim, guardara consigo, no seu falar pouco, nos risos de alegria sem espalhafatos, aquele segredo seu – como se houvesse enterrado em si mesmo, o seu outro eu, de quem se despedira pra sempre num dia esquecido na juventude. No seu quase um século de vida, lembrava-se daquele acontecido? Lembrava-se doridamente, ou só saudoso? Saber ninguém sabe, mas Maclina doceira, que enviuvara três vezes, quando já muito idosa dizia que, das grandes aventuras da vida, nunca se esquece: à moda dum amor verdadeiro. Dizia se rindo, como quem sabe de muitas verdades; falava: “a juventude, minino, é ilusão de alegria, que só termina com cabelo branco e o corpo cheio de dores: mais é boa...”
* Prof. Dr. Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real