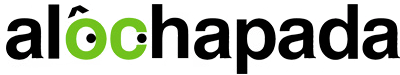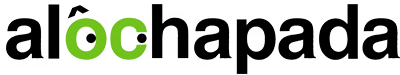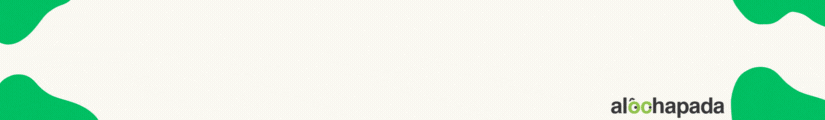Comadre Tunica era uma senhora já entrada nas idades, como se dizia naquele tempo, para se referir a alguém com idade passada dos cinquenta; também o seu marido, homem bom, muito engraçado, especialmente quando “tomava umas” – que ocorria muito raramente. Ela gostava de jogar baralho, recostada em numa velha cadeira de madeira, cujo encosto alto escangotava, dando-lhe bom conforto para a conversa e o jogo; cada vitória, os jogadores iam marcando com sementes de mangulu: uma semente bonita, semelhante ao símbolo do yin e yang, em preto e vermelho. Aos olhos de criança, o andamento das horas das tardes sem chuva tinha essa configuração...
Tunica vivia como se carnificasse um tempo, cujo futuro não desesperava o presente; por seu jeito manso e sem pressa, se ocupava com as coisas da casa, com os filhos amados, como se já vivesse a eternidade, sem reparar no correr sem fim dos dias. Suas emoções, demonstrava chorando: chorava quando algum dos filhos viajava; e não chorava menos, quando o filho voltava. Tinha seis filhos e duas filhas – o mais novo naquele então, tinha lá seus doze, treze anos. Amigo de futebol e pescaria, muito ruim de Escola, num tempo em que o Araguaia era um mundo sem fim; crescemos sob as cores, os sons e as formas das coisas naturais que vicejavam no entorno do nosso rio, antes de começar a morrer lentamente, nos seus silêncios de corredeiras e banzeiros soprados pelo Vento Geral. Na vida adulta os caminhos seguiram diferentes, ditados pelas necessidades de quem vive de salário; quando o correr da vida desajunta todo mundo, mas, também, ajunta uns: pra não ser só dor...
Naquele tempo, tinha conversa de adultos que menino não podia ouvir; havia o tempo e o espaço de adulto, e o tempo e os espaços das crianças – estes eram grandes, muito maiores e plenos de ventos e bichos e passarinhos e árvores ao alcance da vista livre e curiosa. O olhar divisava tudo com as cores vivas do céu-azul, do mato-verde, do Rio e dos lagos e lagoas límpidos, onde se sabia ser lugar de peixes, de muito peixes; e defronte, a exibir-se por cambarás, pau-d’arco florido, cega-machado, pau-d’óleo e mirindiba cheia de frutos, uma ilha imensa, mais imensa ao olhar de criança: “mais maior” que todas as suas dimensões inscritas no livro de Geografia, para mostra-la como a maior ilha fluvial do mundo. Então, se criança quisesse se impor no mundo adulto, por birras e malcriações, a autoridade materno-paterna se impunha, restabelecendo a ordem...
À vista de tudo, dos mistérios das coisas ainda não sabidas, aquela criançada tinha a curiosidade mais aguçada do mundo; de modo a botar sentido nas conversas de adultos, especialmente quando falavam de jeito a não deixar as crianças entenderem. Curiosidade é mãe das aprendizagens, donde nasce criatividade de tudo quanto é cor e tamanho: assim, a meninada fazia “de-um-tudo”, com as próprias mãos: do papagaio ao cavalo-de-pau, do pião à finca, do fazer a arapuca ao saber armá-la pra pegar a juriti – menino naquele então, daqueles ermos, tinha a cabeça plena de desafios, e prenhe de saberes. Agora: tudo se apresenta pronto, “...carecendo, premero, do dinhêro que tudo compra e, a despois, é só apertar o botão certo, pra máquina ir fazendo o que se quer: é o tempo da preguiça, hoje em dia...” Dizia mestre Mané do Couro, com suas sabenças para muito mais que as coisas aprendidas nos seus quatro anos de escola.
Num dia de junho, quando já se fazia sentir saudades da chuva, certo alvoroço desassossegou a manhãzinha na casa da Comadre Tunica. Ouvia-se choro alto e lamentoso, dela: um choro diferente de quando filho chegava ou partia, que era choro baixo, com mais lágrimas que ais e soluços; aquele choro se ouvia na vizinhança: choro entrecortado por ais doloridos, por perda doída. Naquele tempo e lugar, a precisão e as poucas forças e recursos de cada um totalizavam os ambientes, de modo que a necessidade do outro horizontalizava o viver geral; então, a ajuda voluntariosa se impunha como o modo de ser, de jeito que cada um se dava na precisão do outro – sabendo haver nele, o mesmo sentimento igual, a lhe vivificar o ser. Então, a vizinhança correu pra acudir, mesmo sem saber o que era, senão, que era preciso acudir; acorrendo todo mundo pra casa dela, menos a criançada: “–Tu fica aí, que num é coisa pra minino, não!” Quanta maldade com curiosidade da meninada...
“–Que aconteceu, cumadi? Se acalme”. Dizia uma, que chegara antes, já com um copo de água com açúcar na mão; enquanto duas outras lhe seguravam as mãos, uma de cada lado, passando-lhe as mãos nos cabelos matizados de preto e branco, mais brancos que pretos, tentando acalmá-la. Ela com a cabeça pendida para um lado, entregue à dor que parecia lhe dilacerar a alma; de tão sentidos, o choro e o lamento, que comoviam. Então, com os olhos semicerrados, entre soluços, braços arriados, amparados pelas mulheres que a consolavam, entregue a aquele desalento, era como se se despedisse da vida: “– Oh, cumadi, roubaram nossa fia!” As mulheres suspiraram um alívio: não era um caso de morte, nem de acidente ou doença grave...
Foi quando o marido chegou à sua maneira, com sua pela da cor de Sol de Sertão e Roça, mãos de trabalho pesado e mente vivaz de grandes sabedorias, externadas sempre com algum gracejo, sem vulgaridades, nem inconveniências pra fazer passar vergonha. Os dois vieram dos confins do norte do Goiás antigo, já casados, com metade dos filhos nascidos; eram os dois de descendência nordestina, Maranhão e Ceará. Justino falava com sotaque goiano-nordestino, de um jeito que faz falta nos dias corridos de hoje: dizia tudo com a sabedoria de sempre meter leveza nas frestas da sisudez do cotidiano, e assim se fazer entender com graça; desenrugando o ambiente, desarmando de raiva o que estava sentido por coisa pequena. Com o rosto demonstrando certa tensão, que, dado esse seu jeito, não se sabia se era de preocupação mesmo ou a encenação para um gracejo, uma pilhéria, que tivesse ensaiado para acalmar a velha companheira, disse sem rodeios:
“–Óia minha véia, oiei tudo, em tudo o que é canto, daqui até no fundo do quintal, subi e oiei pra despois da cerca, e num vi nenhum sinal de que levaro ela arrastada! Arreparei bem a cerca, se tinha algum buraco, por onde tivesse passado, mas num vi nem um que fosse! E cuma ninguém escutou cachorro latir de noite: é certo que nossa fia foi porque quis, num foi à força! E sendo assim, tá bom: dêxa eles seguir em paz! Cuma tu sabe: a carne reina!” Fez esse relatório todo sem qualquer sinal de raiva, nem de muita preocupação; carregando e indicando nas últimas palavras seu veredito de homem experiente, vivido; bateu levemente as costas da esposa, numa carícia de marido-companheiro de meio século, dizendo por fim, como um consolo e amparo: “– Intão, tu pode se aquietar, e parar com essa choração, porque ela tá é muito bem nessa hora”.
Comadre Tunica ouviu tudo sem abrir os olhos, murmurando apenas um desolado: “– Oh, meu Deus...!” Não se sabe se em referência à situação em si, ou se reprovando o gracejo final do marido. As demais mulheres, Comadres e Afilhadas, ficaram com um riso à meia-boca, prendendo a gargalhada pelo muito respeito à matriarca querida. O ambiente se descarregou, os nervos se afrouxaram, de modo que os soluços de Tunica deram lugar a suspiros compassados. Então, como se para pôr um fim à situação, virou-se pra filha mais velha (que tudo assistia em silêncio religioso, como se pra não revelar, num descuido, que a irmã lhe havia segredado os planos no dia anterior): “– Minha fia, fais um café pra nós!”
Ela saiu pra cumprir a ordem do pai, preocupada, agoniada em seus consigos: “será que o Nazário vai cuidar bem dela, mesmo?”; pensava apreensiva, enquanto despejava no velho moinho de ferro uma porção generosa de grãos de café torrado, moendo em seguida, enquanto a água dava o ponto da fervura. Deitou o café moído sobre a água fervente, fazendo a bebida subir ao topo da panela de alumínio, ameaçando derramar-se sobre a chapa do fogão à lenha; retirou a panela do fogo e derramou a bebida fumegante no coador ajustado na boca do bule de ágata azul-marinho, depois enfiou uma colher no coador, torcendo-o, para que todo o líquido e o sabor do café fossem extraídos para o bule. O cheiro bom exalou, perfumando o mundo...
Chegou à sala segurando uma bandeja grande, de vidro e madeira, com o bule e seis canequinhas de ágata, também azuis, agasalhados cuidadosamente: “– Eita, que pensei que tu tinha ido plantar o café; de tanto que demorou!”; disse-lhe o pai, à sua moda de agradecer com graça. O cheiro bom do café plenificou o ambiente, de modo que, sem muita insistência, Comadre Tunica pegou uma canequinha, e deu-se àquela delícia, misturando choro e café no mesmo gole. Sem ouvir soluços e ais, todos seguravam as canecas quentes com as pontas do polegar e do indicador; tomavam a bebida em pequenos goles, bem devagar: soprava a caneca e tomava um gole, soprava novamente e tomava mais um, até esvaziá-la. Com olhar de falsa zanga, Tunica indagou ao marido com sincera preocupação de mãe: “– Tu não vai atrás dela, não; pelo meno pra saber como ela tá?” Com paciência, dando por desnecessária a preocupação da esposa, disse: “–Num se preocupe, que ela tá bem, te aquieta!”
Antes do almoço todo mundo já sabia do ocorrido: “A filha da Tunica, a Mocinha, fugiu!” Como não era o primeiro caso, e nem sempre a coisa terminava bem, especulavam: “Eita cabôco corajoso, esse Nazário, o que vai aconticê, agora?"; "Rapaize, óia, aquele irmão dela, o do meio, é mais esquentado... sei não, viu!” Sabendo o que o povo devia estar comentando a respeito do caso, os irmãos de Mocinha pensavam no que fazer, para não ficarem com a fama de “frouxos”; imaginando isso, e por conhecer bem os filhos, o velho os reuniu e lhes sentenciou: “Ninguém vai fazê nada! Foi da vontade dela; vamo vê o sentido dele cum ela!” Assentiram tudo em silêncio; mas, sem o pai saber, acertaram de o mais velho ir procurar o Nazário, pra saber de suas intenções: se iria ou não casar com a sua irmã – única atitude para anular sua atitude. Foi e achou os dois, porque ali não tinham onde ninguém se esconder...
Nazário o viu chegar e, sem medo, permaneceu de pé, demonstrando-lhe firmeza e respeito. A irmã temerosa, foi ao encontro do irmão, tentando lhe falar “ – Meu irmão, óia...”; ele a afastou com a mão sem dizer palavra e seguiu na direção do Nazário. Mocinha sentiu as pernas bambearem. Então, ouviu Nazário dizer apaziguador ao irmão: “– Eu sei que não fiz a coisa mais certa, mas sou homem e não vou desonrar sua família. A gente se gosta e nós vamos ficar juntos; e se é o caso, a gente se casa...” O irmão respirou aliviado, olhou os dois sem raiva: “–Intão, tá!”; respondeu e deu-lhes as costas...
De “papel passado”, Nazário e Mocinha se casaram tempos depois; quando os filhos já eram grandes e precisavam de documentos. Nunca se separaram, de jeito que passados mais de cinquenta anos, com netos na escola, lembravam de tudo entre risos; porque há sempre alguma coisa da juventude pra se lembrar com alegria e saudade, que se conta “como se fosse ontem, o acontecido...”
*Prof. Dr. Elismar Bezerra Arruda é professor na rede pública de ensino
O Alô Chapada não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste espaço, que é de livre manifestação
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real